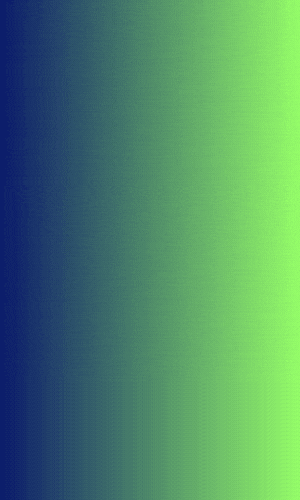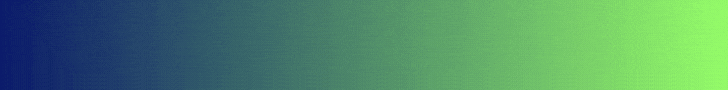A história da reforma agrária no Brasil é antiga, marcada por lutas, conflitos e promessas não cumpridas. Desde a redemocratização, nos anos 1980, o tema figura no debate público como um dos pilares da justiça social, mas nunca avançou de forma decisiva. E a razão para isso não é técnica, nem jurídica: é puramente política.
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), fundado em 1984, tornou-se um dos principais símbolos dessa luta. Surgiu em meio ao processo de redemocratização e à rediscussão do papel do Estado na distribuição de terras. O MST promoveu ocupações de grandes propriedades improdutivas como forma de pressionar o Estado a cumprir o que já estava — e ainda está — previsto na Constituição Federal de 1988.
O artigo 184 da Constituição é claro: “Compete à União desapropriar, por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social.” Já o artigo 186 define essa função social como o uso adequado da terra, a preservação do meio ambiente e a observância das relações de trabalho. Ou seja, a reforma agrária não é um capricho ideológico — é um direito constitucional.
Ainda assim, o caminho tem sido tortuoso. Os conflitos no campo continuam intensos. Segundo a Comissão Pastoral da Terra (CPT), somente em 2023 houve mais de 1.300 ocorrências de conflitos por terra no Brasil, com dezenas de mortes. Essas estatísticas evidenciam que a ausência de uma política agrária eficaz não só compromete a justiça social, como também perpetua a violência no campo.
Nesse cenário, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) deveria ser o protagonista. Criado em 1970, o Incra tem como função central executar a política de reforma agrária e ordenar a estrutura fundiária do país. Cabe ao governo federal, com base em estudos técnicos e mapeamentos do Incra, identificar as propriedades improdutivas que se encaixam nos critérios legais para desapropriação, indenizar os proprietários e redistribuir essas terras a trabalhadores vocacionados para a produção rural.
No entanto, o processo emperra quando entra na arena política. A polarização ideológica transformou o debate agrário em uma batalha de narrativas. Para uns, a reforma agrária é sinônimo de justiça e soberania alimentar; para outros, uma ameaça ao direito de propriedade. O resultado é a estagnação: o número de assentamentos criados nos últimos anos caiu drasticamente, enquanto milhões de pessoas seguem sem acesso à terra.
A verdade é que a reforma agrária é uma necessidade real, não apenas uma bandeira partidária. O Brasil possui um dos maiores índices de concentração fundiária do mundo. De acordo com o Censo Agropecuário do IBGE, cerca de 1% dos proprietários detêm quase 50% das terras agricultáveis do país. Esse modelo é insustentável do ponto de vista social, ambiental e até econômico, já que pequenas propriedades familiares respondem por boa parte da produção de alimentos no mercado interno.
A solução existe. Ela é constitucional, técnica e viável. O que falta é vontade política para implementá-la com seriedade, sem ceder a pressões ideológicas e interesses econômicos que sabotam qualquer tentativa de avanço. Enquanto isso, o país segue dividido, o campo continua em conflito, e o direito à terra permanece sendo uma promessa adiada.