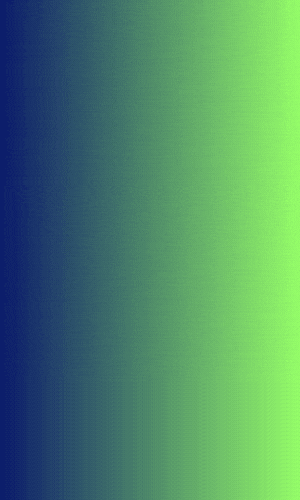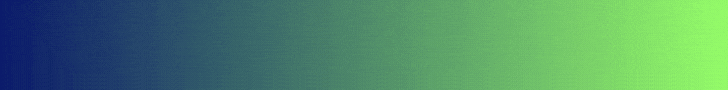Nos idos de 1840 até 1870, no auge da Revolução Industrial, o trabalho deixou de ser apenas uma ferramenta de produção e transformou-se em emprego e os trabalhadores passaram a se ativar e a laborar por salários. A partir desse momento, surgem os contratos de trabalho e uma nova visão do Estado, onde o trabalhador é caracterizado como menos favorecido que o empregador, surgindo então o Direito do Trabalho, pressupondo uma hipossuficiência na relação empregatícia.
Com o passar dos anos as relações de trabalho passaram por inúmeras modificações, sendo um tema fundamental na sociedade atual, eis que afeta a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Envolve a interação entre empregadores e empregados, Governos, Sindicatos, abrangendo aspectos econômicos, sociais e legais.
A evolução nessas relações sempre foi acompanhada da tese de hipossuficiência do trabalhador na relação, tanto no que se refere ao Direito do Trabalho quanto ao emprego e neste aspecto, especificamente no Brasil, há dois atores coadjuvantes, a Justiça Trabalhista e os Sindicatos.
A tese da hipossuficiência é percebida em vários institutos ligados ao Direito do Trabalho que tem em sua estrutura e em seu interior, regras, institutos, princípios e presunções próprias, que desencadeiam uma teia de proteção à parte hipossuficiente na relação empregatícia – o trabalhador -, visando atenuar, no plano jurídico, o desequilíbrio inerente ao plano fático do contrato de trabalho e as desigualdades sociais mais visíveis àqueles que necessitam do trabalho e do salário para a manutenção própria e da família.
Pode-se afirmar que sem a ideia protetiva-atenuante, o Direito Individual do Trabalho não se justificaria histórica e cientificamente.
O princípio da proteção ao hipossuficiente no âmbito Trabalhista pode ser considerado, historicamente, um dos, senão o mais importante, princípio norteador do Direito do Trabalho.
Mas essa proteção é absoluta? Necessária em todos os campos e em todas as situações? A malevolência em rediscutir tais princípios ajuda na imutabilidade de tais conceitos ou mais atrapalha a evolução das relações trabalhistas?
Em qualquer área da vida, seja econômica, social, religiosa, afetiva ou familiar, sempre que temos que tomar alguma decisão, o mais lógico é que se pese as suas consequências. Não deveria ser diferente em relação a uma Reclamatória Trabalhista, eis que o peso da decisão de mover ou não uma reclamatória deveria recair sobre quem a tomou.
Atualmente, este peso das consequências de se mover uma Reclamatória Trabalhista recai única e exclusivamente ao empregador, eis que ao Reclamante, em tese o hipossuficiente, nada ou quase nada, poderá lhe trazer dissabores.
Essa desigualdade foi observada, pensada, devidamente enfrentada e legislada na Reforma Trabalhista advinda com a Lei 13.467/17, na qual se alterou dispositivos e entendimentos e o Reclamante passou a ter que arcar com honorários advocatícios nas causas ou nos pedidos que porventura viesse a perder, além de ter que pagar pela perícia, caso fosse sucumbente no objeto.
Segundo os defensores da medida, a norma criou conscientização ao buscar a tutela jurisdicional, diminuiu o número de ações e deu agilidade às causas que, em tese, são realmente relevantes. As chamadas “ações aventureiras”, nas quais há vários pedidos dentro de uma mesma ação com requerimentos de valores extremamente altos, foram desincentivadas.
As estatísticas mostraram que a partir da edição da referida lei, que entrou em vigor em 11 de novembro de 2017, houve uma diminuição do número de ações na ordem de 43,7% se comparado com o ano de 2021, segundo registrou o Relatório Geral da Justiça do Trabalho, apresentado anualmente pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, que registrou o número de 2,550 milhões de novas ações.
Em 2017, foram apresentados 3,675 milhões de processos na primeira instância. O ano de 2016 registrou o recorde da série histórica, iniciada em 1941, com 3,700 milhões de novas ações.
Já no ano de 2018, com a lei da Reforma Trabalhista em vigor e já bem debatida, foram apresentadas 2,900 milhões de novas reclamatórias, que se comparado com o ano de 2016, observou-se uma redução de 26,72% no número ações.
Mostrou-se que após a Reforma Trabalhista, em um ambiente processual aparentemente mais equilibrado, eis que as “aventuras” jurídicas foram desestimuladas, os números de novas ações caíram drasticamente. E não só o número de ações, mas o valor dos pedidos também diminuiu consideravelmente.
Nesse fervor de mudança, de instabilidade, de acomodação de uma lei que foi pensada para trazer modernidade e equilíbrio nas relações; em meio a incertezas por parte dos empregadores e empregados, que viram na expressão da vontade legislativa um horizonte e um fim, empregadores e empregados respectivamente, eis que surge o ativismo judicial.
E o que é o ativismo judicial? Seria a atuação de uma Suprema corte, que no Brasil, via de regra, é exercida pelo Supremo Tribunal Federal, que ao apreciar ações que envolvem discussão sobre a constitucionalidade de determinadas normas faz verdadeira reconstrução legislativa, deixando de julgar um tema apenas à luz do texto constitucional e fazendo interpretações extensivas ou restritivas. Para alguns, o ativismo judicial é uma maneira de se “refazer a lei” e não apenas julgar a lei.
Assumindo funções tipicamente legislativas, o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o tema da ADI 5766, julgou inconstitucionais os artigos 790-B caput e seu parágrafo 4º e 791-A, parágrafo 4º, da CLT, os quais tinham a missão de, em tese, equilibrar a equação entre causa e consequência de se buscar a tutela jurisdicional trabalhista ou não, pois tais dispositivos geravam dúvidas quanto ao custo a ser pago no caso de não se obter êxito.
Após essa decisão, com repercussão geral, o status quo retornou e o número de ações voltou a subir ano a ano, atingindo o patamar antes existente, eis que em 2023 a Justiça Trabalhista recebeu 3,519 milhões de novas ações, retornando próximo ao número de 2017.
A realidade experimentada são as constantes evoluções que ocorrem nas relações de trabalho, nas leis, nos ambientes, na estruturação, na doutrina, na jurisprudência e, ao mesmo tempo, uma força que impulsiona cada vez mais, no Brasil, a proteção ao hipossuficiente, o empregado.
Equilibrar essa equação é tarefa árdua ao legislador. E, suportar essa desigualdade está sendo condição de sobrevivência apenas do empregador. Será essa a melhor justiça?